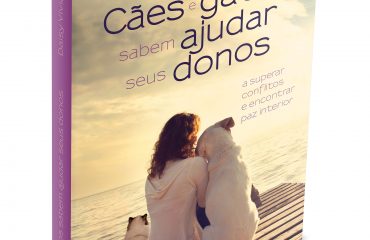Olhe-me nos Olhos e Saiba Quem Você É nasceu da ideia de retratar em livro aquilo que acontece na vida real com pessoas e animais de estimação.
Você consegue ignorar o olhar resignado de um animal que sofre? E o que impulsiona o resgate de uma criatura que se quer é humana? Olhe-me nos Olhos e Saiba Quem Você É conta a história de 20 pessoas que conheceram um pouco mais sobre a humanidade e muito de si mesmas ao acompanharem o destino de animais em perigo que cruzaram seus caminhos.
Onde encontrar? Clique aqui
Editora Nomos.
212 páginas.
Auto-conhecimento.
Leia também:
Cães e gatos Sabem Ajudar seus Donos (livro)
Conto 4: Reflexos de Nossas Almas
Não me lembro quantos anos eu tinha quando comecei a ter consciência de que minha mãe era uma mulher doente. Acho que, no momento em que passei a dormir eventualmente na casa de alguma colega de aula, já na adolescência, foi quando tive a oportunidade de compará-la a outras mulheres e suas atitudes em relação à família, e poucas vezes fora de casa foram suficientes para que eu me desse conta do quanto ela era perturbada. Eu não tinha com minhas colegas um convívio muito próximo, e, naqueles momentos em que comentamos intimidades familiares, nenhuma narrava histórias semelhantes as minhas, relatos que eu preferia manter no mais absoluto segredo sob pena de ser apontada como a mentirosa do grupo.
Nesses raros episódios em que eu dormia fora da casa de minha mãe, observava, extasiada, pessoas da mesma família assistindo serenamente um programa de televisão, montando quebra-cabeças, conversando em diferentes pontos da casa, sem ficarem gritando uns com os outros. Levantar pela manhã na casa alheia – hora que era complicada onde eu morava –, se revelou uma rotina natural e espontânea, às vezes com um pouco de correria – ainda mais quando só havia um banheiro –, mas nunca vi uma mãe gritar para uma filha “sai logo dessa casa!” ou “sai da minha frente!” como frequentemente minha mãe fazia comigo. Isso que tínhamos dois banheiros, detalhe que mais de uma vez percebi fazer falta e gerar discussão na casa de Jéssica, aliás, um lugar onde acordar de manhã era algo surreal, calmo e silencioso, isso talvez porque não existia um sargento de voz feminina dando ordens até para o vento sair do caminho.
O fato é que eu estava acostumada àquele tratamento, mas depois desses rápidos encontros com outras famílias, concluí que minha mãe era uma mulher doente. E não me refiro a qualquer doença, uma gripe ou hepatite, disfunções que têm o poder de acabar com o humor de qualquer pessoa, mas aquelas que só neurologistas ou psiquiatras ajudam a resolver, ou pelo menos a buscar a luz do entendimento, uma forma de fazer o amanhecer de quem mora com pessoas como ela um momento mais suportável de se viver.
Quando se é pequena e filha do meio de três irmãos, crianças cujos pais buscavam, nas profundezas de suas almas, um esforço hercúleo para conviverem debaixo do mesmo teto, o futuro é uma tragédia anunciada. Cedo ou tarde, aquele casamento não acabaria bem. Meus pais não eram felizes, vivíamos ao lado de dois pavios curtos, e bastava uma faísca para tudo ir para os ares. Arrisco dizer que há muito tempo meu pai já tinha desistido de ser um homem casado. Mesmo pernoitando em nossa casa, não fazia mais parte da família, e muito disso se deve à maneira como era tratado por sua esposa. Mas, se juntos a vida deles era um desastre, se separar talvez não fosse a solução. Minha mãe sempre dizia que, embora o odiasse, se divorciar era condenar a família a viver na miséria. Meu pai, um homem jovem e bonito, certamente arrumaria outra mulher e, com ela, teria mais filhos, o que faria eu e meus irmãos viver, como dizia minha mãe, com uma minguada pensão.
– Isso se não forem totalmente deixados de lado por esse asno que é o pai de vocês! – profetizava sempre que se ventilava a hipótese de se afastar dele.
Esse tipo de desabafo, xingar e dar apelidos pejorativos para meu pai, me apertava o coração. O que ela não entendia, e não seria eu a fazê-la compreender, é que, no momento em que o rotulava de “asno”, chamava a si mesma, no mínimo, de besta. Isso porque, se ela escolheu um asno para marido, se identificou com alguma coisa nele, sua crina, quem sabe, esta em perfeita harmonia com os cascos dela, detalhe que jamais fora mencionado por nenhum filho sob pena de levar tantas chineladas que ficaria com o braço roxo por uma semana.
Nas discussões do casal, nunca tirei partido de ninguém e menos ainda estimulei uma briga em que Rosaura, minha mãe, estivesse envolvida, neutralidade que sempre a deixava enfurecida. Eu era sua única filha, como ela postulava, “minha única filha mulher que tem obrigação de me apoiar!!!”. A questão é que quase nunca ela estava com a razão. Os motivos de suas discussões iam desde o pregador de roupa estragado até as formigas que caminhavam sobre o muro. Minha mãe era uma mulher amarga que só via o lado ruim de tudo e, não o havendo, tratava de descobrir um, inventar ou perceber qualquer coisa onde pudesse destilar seu veneno.
A ira que exalava não era descarregada apenas sobre seu marido e filhos, mas também em seus irmãos, parentes e vizinhos, todos vítimas de suas crises de mau humor. A grande diferença é que essa turma toda podia se afastar dela por tempo indeterminado se assim o desejasse – liberdade que não se estendia aos filhos dela –, atitude que afastou de nosso convívio alguns tios, primos e amigos. Lembro-me de sentir muita inveja de quem podia estar longe dela. Pensava como devia ser bom dizer “não quero” e colocar esse desejo em prática! Na condição de filhos, e menores de idade, não podíamos nos afastar. Mais do que descendentes, éramos suas posses, suas escoras, crianças que emocional e financeiramente dependiam dela, e o Estado nada podia fazer a nosso favor. Para acentuar meu drama, tio, tia, avó, amigo, ninguém se intrometeu na vida de minha mãe, fosse com conselhos ou atitudes, ninguém disse que não era correto tratar crianças daquele jeito, ninguém nunca nos convidou a sair de lá, nem que fosse por uma semana. Se nem meu pai intervinha a favor dos filhos, o que podíamos esperar do resto do mundo?
Com marido e três filhos sob o mesmo teto, Rosaura não precisava ter freio na língua e sempre verbalizava o que pensava. Meu silêncio, cedo percebi, a enfurecia, mas logo também aprendi que o melhor a fazer era ser um robô, apanharia menos, e mais curta seria sua crise se eu ficasse de boca fechada, mesmo irritando-a sobremaneira, paralisia que me valeu os apelidos de “filha plasta”, “anta” e “cadela”.
Escrava de sua falta de controle, minha mãe perdia a postura até mesmo em situações do cotidiano, como ver uma vassoura caída no chão. Viver ao lado dela era estar sempre de prontidão, pois qualquer coisa alterava seu humor, comportamento que fazia com que me sentisse rebaixada e reduzida a quase nada quando era reconhecida como a filha de quem estava arrumando a confusão.
Por conta desse total descontrole, nunca a defendi em nenhuma de suas crises, ainda mais quando o objeto da raiva recaía sobre meu pai, a maior vítima de sua neurose. – “Você é mulher, é minha filha! Você tem obrigação de me entender e me proteger de seu pai!” – gritava ela depois de um bate-boca matrimonial. Embora eu ainda não fosse mulher – devia ter nove ou dez anos quando ela começou a me exigir apoio – eu não achava que ela estava certa, e, se tivesse, sua forma agressiva de resolver os conflitos acabava derrubando qualquer ponta de razão que pudesse ter, mas, se expusesse meu ponto de vista, levaria uma surra. Meu pai, por sua vez, até sentia pena de mim, mas nada fazia para reverter a situação, e nunca entendi o porquê. Se a ele cabia o sustento da casa, como se submetia ao crivo de uma mulher cujas contas eram pagas por ele?
Mesmo assim, eu não pedia nada para meu pai, tinha medo de sobrecarregá-lo, de contribuir ainda mais para sua desilusão e para a decisão de nos abandonar. Se era ruim viver com minha mãe, seria insuportavelmente pior estar ao lado dela sem meu pai, o único na casa que ela ainda não batia. Quando questionado pelo meu irmão mais velho, Rodolfo, sobre sua falta de ação, ele respondia “sua mãe é louca”, e apenas isso. Era sabido que ele estava perigosamente cansado dela.
Representante comercial, papai passava boa parte da semana fora de casa, e acredito ter sido essa a razão de o casamento deles ter durado mais de uma década. Estar longe dela o permitia respirar e ter amigos sem precisar compartilhar com eles aquela máquina de arrumar confusão que era sua esposa. Esse afastamento, porém, também era um dos motivos que alimentavam as desconfianças de Rosaura sobre a fidelidade do marido.
Essa teoria me atingia em cheio. E se meu pai tivesse mesmo outra mulher, outra filha, um lugar melhor para ficar durante a semana? E se gostasse mais de ficar com essas pessoas? E se um dia fosse embora definitivamente para viver ao lado de gente normal?
Para complicar, o retorno dele a nossa casa quase nunca era cercado de boas-vindas. Apesar de minha alegria em tê-lo novamente perto de nós, eu sabia que as brigas recomeçariam. Mesmo que sua figura não fosse protetora e não representasse uma saída para o que vivíamos, era bom tê-lo em casa, mais um alicerce para aliviar o peso de dividir a vida com Rosaura. E ainda tinha um agravante, um mal que se intensificava quando ele não estava em casa: eu apanhava. Eu e meu irmão mais novo, Joaquim, nos tornamos verdadeiros sacos de pancada nas crises de Rosaura. Paralelo a isso, nosso irmão mais velho passou a ser poupado desse martírio conforme os fios de barba e seu tamanho o afastavam da infância. Minha mãe podia ser louca, mas não era burra: bater em Rodolfo, um rapaz que esbanjava força e altura, não era uma atitude inteligente. Independentemente dessa vantagem, ela parecia estar sempre com o chinelo ao alcance da mão e só sabia falar com os filhos com voz ríspida e de forma hostil. Não tenho dúvida de que criar dois meninos e uma menina, com um, dois anos de diferença um do outro, não é uma tarefa fácil, mas minha mãe era uma mulher que não tinha a menor condição de dar suporte emocional a ninguém.
Aos quatorze anos, Rodolfo começou a exigir de nosso pai a postura que se esperava de um chefe de família. Lembro-me de ele dizer que, se não fosse em nome de seus filhos homens, que pelo menos fizesse alguma coisa para poupar a filha da pancadaria. Por conta disso, eu estava sempre com o corpo roxo e evitava roupas de mangas curtas e shorts na escola. A aula de educação física era um problema, e as desculpas ficavam por conta das agressivas brincadeiras dos irmãos mais velhos. Mal começava a clarear um hematoma, já vinha outro. Não sei se os professores percebiam algo errado, mas, se sabiam, foram outros que não se mexeram, o que contribuiu ainda mais para o reinado soberano de Rosaura em seu castelo de loucuras onde ninguém se intrometia.
Quando questionada da razão de ainda estar casada com meu pai, pessoa “plasta” que ela odiava tanto, o grande responsável por sua infelicidade, ela respondia que não o abandonava porque nós, filhos, iríamos morrer de fome. Rosaura admitia estar casada apenas por nossa causa, para manter nosso sustento. Em outras palavras, se sacrificava por nós, “filhos ingratos que não serviam para nada”, e eu me sentia um tanto culpada por sua dor, sua melancolia. Ela esperava uma filha melhor, uma filha que a apoiasse, uma amiga, mas, em vez disso, teve uma filha com a cara do “plasta” e com atitudes tão inúteis quanto às dele.
Nesse ambiente de constante tensão que vivi na minha infância e adolescência, o jeito de levar essa situação foi, além de permanecer calada, ficar o mínimo de tempo possível em casa, uma maneira de, pelo menos, evitar que ela encostasse a mão em mim. Mas isso também teve um preço. Estar tanto tempo na casa dos outros ou brincado nas ruas com meus irmãos me deu a fama de a “menina solta” no bairro. Algumas amiguinhas me contavam que não tinham permissão para brincar comigo porque eu não tinha mãe e isso também valia para Rodolfo e Joaquim. O que eles temiam, creio eu, é que estávamos a meio caminho da criminalidade, dos pequenos furtos e, no meu caso, de uma gravidez, mas isso não nos afetava porque tínhamos um ao outro e a outras crianças sem restrições para brincar com a gente.
Em virtude disso, minha infância teve uma brecha, uma pausa para que eu pudesse ser como toda criança, brincar com os brinquedos da praça, de taco, soltar pipa, subir em árvores e cuidar de cachorros e gatos abandonados que por lá apareciam. Sim, isso também era muito legal, ficar fora de casa coroou minha infância com divertidos momentos com meu irmão mais novo. Joaquim e eu encontrávamos grande alegria cuidando dos animais que surgiam pelo bairro. Na praça, a mesma onde havia o escorrega, os balanços e o gira-gira, improvisamos, com caixas de papelão, uma casinha para acolhê-los. Na rua, cães sem dono eram cuidados de forma coletiva, e mais de uma vez cadelas grávidas tiveram seus filhotes em tocas feitas por elas mesmas revolvendo a terra debaixo de grandes árvores. Com o tempo, aprendi a perceber quem estava ou não de barriga e ficava sempre de olho naquelas que eu sabia que estavam inchadas demais e prestes a dar à luz. Nem sempre foi possível acompanhar o parto – ele se dava quase sempre à noite – mas ver os filhotes crescendo era um grande regozijo que mantinha eu e outras crianças entretidas a tarde inteira.
Passar a tarde e parte da noite longe de nossa casa e da ira de Rosaura foi uma estratégia que valeu para todos os envolvidos na paranoia. Era sabido que ela gostava de ficar sozinha com seus fantasmas sem ter de interagir com o ser humano. E mais de uma vez ela deixou isso bem claro. “Peguem logo essas mochilas e saiam daqui!” ela dizia nas manhãs em que nos atropelávamos no corredor de casa para ir a escola, “vão logo!”.
O meu lazer se resumia à vida na rua. Era bom não ter chinelo nem gente gritando comigo. No mundo hostil dos animais abandonados, ninguém me machucava, ninguém me feria, e, depois de crescidos, a missão era bater de porta e porta para arrumar um dono para eles. Apesar da companhia e compreensão de meus irmãos, eu ainda sonhava com o dia em que chegar em casa não seria sinônimo de enfrentar uma tormenta. Por muitos anos, desejei que meu pai desferisse um soco bem certeiro no nariz de sua esposa, algo que fizesse ela se dar conta que que sua língua estava solta demais e que filhos mereciam respeito. Acabei tendo o dia da libertação, porém, pelas mãos de Rodolfo quando deu uma boa bofetada bem dada na mãe, revidando a que tinha acabado de levar, marco decisivo que destruiu para sempre o relacionamento entre os dois.
Aquela foi a última vez em que o vi na nossa casa. A saída de Rodolfo abriu uma fenda na família de dimensões até então desconhecidas. Um dos esteios de minha mãe, uma das pessoas que aguentava seu jeito arrogante e indisciplinado havia desistido dela. E assim, com apenas treze anos de idade, tive de aprender não apenas a viver sem Rodolfo, mas também sem a presença de meu pai, pessoa que nos abandonou alguns dias depois.
Eu amei a coragem do Rodolfo, mas Joaquim e eu pagamos um alto preço por sua atitude. Isolada, irracional e abandonada, Rosaura percebeu que todo seu “sacrifício” em cuidar dos filhos fora em vão. De que adiantou ficar tantos anos casada com o “plasta” se nós, os filhos, não reconhecemos seus esforços? Com a segunda perda da casa, o marido, minha mãe simplesmente enlouqueceu, e, em pouco tempo, sua raiva recaiu certeira sobre nós.
Logo depois disso, de “menina da rua” fui promovida à “filha da louca”, o que de certa forma me agradou porque, pelo menos, no meu apelido eu era filha de alguém. Contudo, como os “filhos da louca”, o número de amigos se reduziu, não éramos bons exemplos, ainda mais depois dos pais oficialmente desquitados em uma época em que isso não era comum. Os poucos amigos que restaram eram, na verdade, amigos de Rodolfo ou do meu pai, pessoas que acabaram se desobrigando a manter a cordialidade com minha mãe e até ignorando por completo sua presença. E cada dia ela se via mais isolada. As pessoas começaram a se afastar, ninguém mais precisava forçar educação, e quem ainda precisasse estar com ela começou a fazê-lo com frieza. Nesse ponto da minha vida, comecei a ter vergonha de ser vista pelos vizinhos, me sentia impregnada de sujeira e passei até mesmo a dar razão às mulheres que não deixavam suas filhas brincarem comigo. Minha família era muito podre, e minha mãe, muito errada.
Com o desfalque familiar, as coisas pioraram também porque ela exigiu de mim uma compreensão sobrenatural dos fatos e, não correspondendo às suas expectativas, mais uma vez fui motivo de sua trasbordante frustração, reação que me incomodava demais, era como se um pedaço de mim estivesse sendo enterrado no esgoto sempre quando ela manifestava decepção comigo. Na minha concepção, ela chorava por minha causa, era infeliz por minha causa, pois fui uma filha muito má, realidade que ela sempre fez questão de enfatizar. Acredito – hoje, depois de muita terapia – que ela precisava fazer isso, dizer coisas até me fazer chorar, porque precisava haver mais uma pessoa chorando além dela. Acho que esse ritual era necessário para que ela finalmente pudesse se livrar de alguma coisa de muito pesada que oprimia seu peito. Meu choro era a prova de que eu estava errada e que ela tinha razão, e depois de toda essa explosão, às vezes, ela me batia. Digo “às vezes” porque eu já estava bem maior e me bater devia doer suas mãos. Até hoje, se fechar meus olhos e me lembrar do passado, consigo ver minha mãe descarregando todo o seu ódio em meus ombros, braços e costas.
Por desconhecer a rotina na casa de outras crianças e por morrer de vergonha de apanhar, não compartilhava minhas angústias com ninguém. Eu me sentiria profundamente diminuída se mais alguém, além de meus irmãos, conhecesse meus segredos. E entre meus tios, tias e avós, não havia ninguém com quem eu tivesse intimidade suficiente para conversar a respeito. Estou falando da mentalidade de uma menina na década de 1960, uma época em que não existia Estatuto da Criança e do Adolescente, tempo em que os pais podiam fazer o que quisessem com seus filhos, no que tange o uso de ferramentas para educação, o que, no meu caso, incluiu cinta, chinelo e pedaços de pau. Como eu disse, eu estava grande, e esses foram os recursos encontrados por ela para não machucar sua mão.
No final da minha adolescência, quando tive autorização para dormir fora de casa, comecei a conhecer outras mães. Eu também não tinha me dado conta de que cresci muito solitária, um universo que se resumiu praticamente a meus irmãos e eu.
O tempo foi passando, saí de casa, me casei, e duas moças mais ou menos da minha idade foram dignas da minha confiança, mulheres para as quais contei minha história pela metade porque acho que nunca vou conseguir abrir o jogo por inteiro. A pergunta seguinte foi inevitável:
– Se ela batia tanto em você e era tão perversa assim, por que você continuou com ela depois que seu pai e irmão foram embora?
Eu tinha parte da resposta e, por muitos anos, ela foi a causa maior de meu sofrimento. A culpa, a famigerada culpa, aquela que destrói a autoestima e trava nossas vidas foi a responsável por eu ter ficado em casa ainda por tanto tempo.
Mas tinha mais. Por muitos anos, me senti culpada por não gostar dela, não amá-la me destroçava por dentro. Sei que tinha meus motivos para isso, mas também não consegui me livrar do desejo de ser amada por ela e de amar minha mãe como achava que minhas amigas amavam as mães delas. Pois é, eu sentia isso, por que louca ou não, Rosaura era minha mãe, e eu queria por ela ser amada, precisava disso, muito esperei por isso. O convívio com ela pode ter sido aterrorizante, só que o que tinha de estúpida para com o ser humano, tinha de gentil para com os animais. Assim como eu, Rosaura gostava de cães e gatos, e nunca a vi os tratando sem dignidade e respeito. Quando os filhotinhos que nasciam no mato da praça cresciam, minha mãe permitia que fossem levados até a garagem de nossa casa e dali doados para outras pessoas.
Os animais por ela eram bem tratados, ganhavam cafunés e longos diálogos, e como eu queria ser objeto daquela atenção! Se minha mãe conseguia ser gentil com animais, é porque um dia poderia também ser gentil comigo. Era nesse ponto em que meu cérebro fervia. Como todo ser humano, minha mãe não era de todo ruim e eu conseguia ver um lado bondoso nela, uma coisa que precisava ser conquistada, despertada e merecida, e os animais conseguiam atingir esse ponto. Então, se eu fosse uma boa menina, se eu a fizesse feliz, se eu ficasse em casa servindo de saco de pancada e obtivesse seu reconhecimento, talvez minha frustração de não ser amada por minha mãe finalmente chegaria ao fim.
Esses foram os motivos pelos quais não a abandonei: minha mãe tinha cura. Ela carregava um ódio enorme no coração que determinava todas as suas atitudes e a impedia de amar qualquer ser humano, inclusive aqueles que colocara no mundo, mas, por alguma razão, eu sabia que Rosaura não era uma pessoa demoníaca, de essência ruim. Se ela gostava de animais, tinha um lado bom, um lado que se perdeu, mas tudo o que é perdido pode ser encontrado e podia estar em minhas mãos fazer minha mãe feliz, o que finalmente me daria a chance de receber a atenção e o amor dela.
Apesar de tudo o que minha mãe fez contra mim, ela não era de todo má, acho até que não teria sido tão estúpida com seus filhos se tivesse feito um tratamento com médicos especializados quando jovem. Acho que mesmo sendo criança, de alguma forma tive capacidade de entender que minha mãe era doente. À medida que me tornava mais moça, parentes dela, às vezes, deixavam escapar algum segredo de família, aquela coisa que os mais velhos não comentam, mas que todos sabem, detalhes picantes o suficiente para explicar parte da agressividade dela. E para fugir do que considerava um inferno, acabou se casando com meu pai, vida de casada que mostrou estar muito distante daquilo que sonhava. Um homem montado em um cavalo branco e uma casa na colina se transformaram em louças sujas sobre a pia, cama em desalinho e filhos barulhentos para criar.
Eu penso que, em algum momento, lá atrás de sua vida, ela se decepcionou com o ser humano e se sentiu à vontade para ser quem era com os animais. Eu podia ter tido o mesmo destino, poderia ter usado meu sofrimento como desculpa e ficar remoendo minha existência, fazendo a vida dos outros um estepe para a minha, mas não foi o que eu fiz. Diferentemente de Rosaura, eu quebrei essa corrente.
Agora é moda falar em resiliência. Estando fora das forças externas que nos forçam a tomar decisões, voltamos a ser aquilo que nossa essência, não nossa defesa, nos determina a ser, e creio terem tido os cães abandonados um papel importante nesse redescobrimento de minha personalidade. Estar perto deles sempre me fez entender que eu não era má, eu tinha um bom coração, apesar de ter a certeza de que minha mãe não compartilhava da mesma opinião. Ao lado deles, sem eu ter ciência disso, eu era quem devia ser, pois não tinha a influência nociva de Rosaura. Hoje eu sei que me aproximei dos animais também pela semelhança de nossas situações de abandono. Eu me identificava com eles. Talvez não pudesse resolver minha vida, mas podia resolver a vida deles, possibilidade que me enchia de emoção e alegria. “Vou mudar a vida de vocês. Vou trazer comida, água e depois arrumar um lar para vocês”, eu pensava. Ajudar a quem sofria me afastava da realidade e fazia com que me sentisse muito bem, pelo menos enquanto estivesse na companhia deles.
Como eu apostava, minha mãe era uma pessoa doente e carente de ajuda, que só veio nos meus vinte e cinco anos, em um dia que ela se feriu com água quente, queimadura feia em que foram necessários alguns dias de internação e a visita de um psiquiatra. Àquelas alturas, não fosse o acompanhamento médico, minha mãe teria se deteriorado.
Embora lembre com melancolia o que vivi, de certa forma consegui perdoá-la, e isso em boa parte devo ao afeto que ela nutria pelos animais. Também sinto que o carinho que recebi deles contribuiu para que eu não resvalasse para o mesmo buraco para onde ela foi. Essa válvula de escape, essa sensação de proteger os que não têm voz foi onde me encontrei. Pegar os enjeitados no colo e dar a eles uma nova oportunidade era fonte de restauração para minha alma, pequeno embrião que cresceu e se estendeu para as crianças aqui da comunidade. Hoje sou conhecida no bairro pelo meu envolvimento no Conselho Tutelar e no Lar da Mãe Solteira. Não posso ver crianças apanhando, trabalhando ou sendo negligenciadas por seus pais, porque, se elas tivessem a oportunidade de ser socorridas em tempo de reverter sua desilusão, seus destinos poderiam ser diferentes, e menos pessoas teriam sofrido nesse mundo. Digo isso por ter sido testemunha do grande estrago que uma pessoa com marcado desequilíbrio faz com sua família. Se não for auxiliada em tempo hábil, sequelas de seu comportamento se estendem por muitas gerações. Todavia, uma infância difícil não é salvo conduto para as pessoas se portarem mal e machucarem os outros verbal ou fisicamente. Eu e Joaquim temos motivos de sobra para ter mágoa do mundo, mas não nos tornamos pessoas pesadas para nossos filhos, colegas e amigos, e acho que foi o que faltou para nossa mãe: um esforço para se tornar uma pessoa melhor. Se todo mundo usar a desculpa que sofreu para fazer mal ao outro onde vamos parar?
Há alguns anos, minha mãe teve a chance de recuperar parte de sua infância. Cercada por bichinhos de pelúcia, Rosaura embala suas bonecas como devia ter feito setenta anos atrás. A demência, uma vez detectada, progrediu rápido, e as visitas de seu cérebro aos primeiros anos de sua vida, sua primeira infância, se tornaram cada dia mais demoradas. Nessa vivência tardia, posso até dizer que ela teve uma infância decente porque quaisquer que tenham sido os erros cometidos pelos adultos, isso não voltou a se repetir. Essa negligência, cegueira voluntária que varreu minha infância e minha adolescência, foi parcialmente reparada, em uma casa de repouso, com décadas de atraso. Os custos para manter minha mãe nesse lugar, divididos entre Joaquim e eu, foi uma das causas de nossa decepção com Rodolfo. Sua falta de compromisso em relação às despesas acabou por nos afastar dele, mas não pude condená-lo por isso. Diferente de meu irmão caçula, Rodolfo nunca a perdoou e sequer compareceu ao seu funeral.
Rosaura morreu em um domingo de Páscoa, e Deus sabe o quão sinceras foram minhas lágrimas. No velório, apenas oito pessoas se deram ao trabalho de comparecer. De minha mãe me despedi como quem dá adeus a um amigo covalescente, alguém que ficou em coma deitado em uma cama por muitos anos. Não tivemos um relacionamento de mãe e filha, e isso nunca será recuperado, mas o que vale é que, no final de sua vida, foi possível resgatar um pouco do que ela poderia ter sido, o que gosto de pensar que, para onde ela foi, fez toda a diferença. Uma mulher que gostava de animais não podia ser alguém totalmente ruim, e felizmente nos demos conta disso e não a abandonamos quando a razão se perdeu. A ajuda chegou tarde, mas antes assim do que nunca ter vindo.